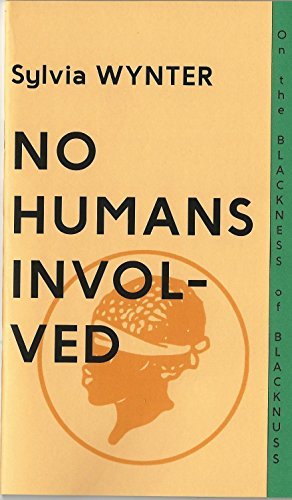Por Kleber Chagas Cerqueira À memória de meu grande amigo Astral Melo En realidad, el racismo está inscrito en el sistema (…) La conquista se hizo por la violencia; la superexplotación y la opresión exigen el mantenimiento de la violencia, y por ello la presencia del ejército. Allí no habría contradicción si el terror reinase en toda tierra: pero el colono disfruta allí, en la metrópoli, de los derechos democráticos que el sistema colonial niega a los colonizados; (…) El colonialismo niega los derechos del hombre a los hombres que ha sometido por la violencia, que mantiene por la fuerza en la miseria y en la ignorancia; por lo tanto, como diría Marx, en estado de “subhumanidad”. J. P. Sartre. Colonialismo y Neocolonialismo. (Situations, V). Editorial Lozada. Buenos Aires. 1965. Refletir sobre as origens históricas do racismo nos remete ao escravismo, ao complexo sociocultural, jurídico e político que justifica a escravização de um homem, ou de uma mulher, por outro homem, ou por outra mulher. Se as primeiras experiências humanas de escravização se deram num contexto transparente de violência direta (escravização por guerras de conquistas ou por dívidas), a prática foi, ao longo do tempo, sendo “aprimorada”, substituída a transparência da violência pura e simples por dispositivos jurídicos, políticos e culturais (especialmente religiosos) que justificavam, por suposta superioridade de raça, ou negação da própria humanidade, a escravização de uns por outros. Nessa perspectiva histórica, não foi o colonialismo que inventou o racismo, já que há muitos registros de escravização em sociedades humanas não colonialistas. Mas foi o colonialismo que imprimiu ao racismo escala industrial, especialmente em sua versão europeia: na virada do século XIX para o século XX, mais de três quartos das regiões do planeta e mais de quatro quintos de sua população já haviam sido ou ainda eram colônias de potências imperialistas europeias. Ou “protetorados”, na fórmula fofa e paternal do Império Britânico, o maior de todos à época, aquele onde “o sol nunca se punha”. Aliás, se uma das bases da chamada acumulação primitiva de capital, essencial à revolução industrial e estopim do sistema mundial moderno, foi o colonialismo da era moderna, não podemos esquecer que a cor dessa acumulação foi a cor preta, com a transformação de pessoas africanas em mercadorias para as Américas. Daí uma questão de profundas implicações filosóficas e epistemológicas: como foi possível ao Ocidente europeu renascentista, dos séculos XIII a XIX, falar em humanismo num mundo que desumanizava a maioria dos seres humanos? A esse respeito, uma referência muito potente, e ainda lamentavelmente pouco conhecida no Brasil, é a pensadora cubano-jamaicana Sylvia Wynter, cujo primeiro texto publicado em língua portuguesa compõe a brilhante antologia “Pensamento Negro Radical”, da N1 Edições, de dezembro de 2021, organizada por Clara Barzaghi, Stella Z. Paterniani e André Arias. Sylvia Wynter se dedicou a investigar o humanismo e a história da humanidade a partir da crítica da universalização do homem branco europeu como parâmetro para humanidade, empreendimento que termina por desconstruir o próprio conceito ocidental de modernidade. A crítica de Sylvia Wynter propõe uma forma radical de humanismo, herdeira dos mistérios das marés, não das caravelas que as tentaram colonizar.1 Partindo do reencontro com sua ancestralidade fincada na economia das plantations caribenhas, realidade socioeconômica praticamente idêntica à dos latifúndios escravocratas que colonizaram o Brasil, Sylvia Wynter identifica ali a desumanização das negras e negros, das índias e índios, como condição de reprodução daquele sistema colonial. Essa herança colonial nos impediu de realizar plenamente a emancipação humana, uma vez que este sistema se baseava na destituição de humanidade de boa parte dos seres humanos. Para Wynter, assim como para Fanon (2008), a desumanização das pessoas negras implica a desumanização de toda a humanidade. Em seus estudos e escritos, batendo-se contra a “lógica-plantation da universidade”, que pressupõe a universalidade da história branca europeia, Sylvia Wynter se propunha a uma revolução intelectual, a partir de verdadeira refundação epistemológica, que quebrasse essa lógica colonialista e refundasse o humanismo em bases radicais, como emancipação completa, sem exceções, do ser humano. Tendo ido estudar artes e literatura ainda jovem, no King’s Colege, em Londres, quando a Jamaica ainda era parte do Império Britânico, Sylvia torna-se professora na Universidade das Índias Ocidentais (UWI), responsável pela cátedra de literatura hispânica e escreve, em 1962, ano em que a Jamaica se torna independente, seu primeiro e único romance: The Hills of Hebron, cujo título original era The End of Exile (o fim do exílio), em que buscava anunciar o fim da história exilada da Jamaica e a refundação dessa história, desafiando “o sistema central de crenças sobre as quais nossas sociedades foram fundadas, a crença de que a negritude seja um dado de inferioridade e da branquitude, um dado de superioridade”.2 Em seu ativismo artístico e político, Sylvia também foi uma das fundadoras do Jamaica Journal, para o qual contribuiu com vários artigos e ensaios, e escreveu o espetáculo Maskarade, peça exemplar do teatro jamaicano pós-independência. Entre 1974 e 1977, foi professora convidada no Departamento de Literatura da Universidade da Califórnia, em San Diego, para coordenar um programa interdisciplinar sobre literatura do Terceiro Mundo. Em 1977, vinculou-se à Universidade de Stanford, como responsável pela cátedra de Estudos Africanos e Afro-americanos, e aí permaneceu como professora emérita, em reconhecimento por sua trajetória de pesquisa e reflexão sobre a formação do Caribe na modernidade a partir da invasão colonial. No artigo citado anteriormente, que compõe a antologia “Pensamento Negro Radical”, No humans involved: an Open Letter to My Colleagues (Nenhum Humano Envolvido: uma carta aberta a meus colegas), Wynter parte do fato noticiado pela imprensa estadunidense, chocante, ainda que muito didático, de que funcionários públicos do sistema judicial de Los Angeles rotineiramente usavam o acrônimo “NHI”, significando “No humans involved” (literalmente: nenhum humano envolvido!) para se referirem a qualquer caso envolvendo violação de direitos de homens negros jovens desempregados, habitantes dos guetos do centro da cidade.3 Evidentemente, observa ela, ao classificarem essas pessoas dessa maneira, aqueles funcionários públicos estavam concedendo sinal verde para a polícia de Los